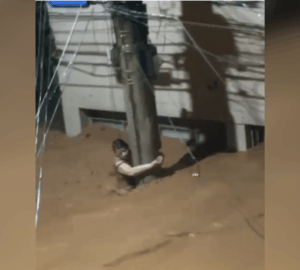Toda semana Alaor levava o filho de 13 anos ao hospital central da cidade em busca de medicamentos raros e caros. O menino sofria de um distúrbio neurológico severo que lhe causava constantemente convulsões e desmaios repentinos. Por ser incurável, o máximo que Alaor podia fazer era tentar amenizar o sofrimento do jovem e dar-lhe o mínimo necessário para continuar tocando a vida.
Mas não era nada fácil. A família morava no extremo sul da cidade de São Paulo e para chegar ao hospital, levava quase três horas entre trem, metrô e ônibus. Às vezes, os remédios faltavam e o drama de Alaor beirava o insuportável, vendo o filho padecer sem ter as mínimas condições financeiras para comprar os anticonvulsivos.
No trajeto para o hospital, esgueirando-se entre a multidão de passageiros, ele e o menino pareciam indigentes. Roupas muito pobres, rostos lancinados pela vergonha, olhares perdidos de quem se acostumou, durante boa parte da existência, a viver da caridade alheia. Claro que havia gente boa durante a viagem até o hospital, gente que se levantava para o rapaz poder sentar-se, que oferecia sanduíches e bebidas. Mas Alaor agradecia às pessoas com um sorriso mitigado, envergonhado, amarelo. O que seria do seu pobre filho, quando ele se fosse?
Separado da segunda mulher e desempregado há 4 anos, ele vivia do dinheirinho que o irmão enviava todo mês, cerca de 900 reais. Não havia muita comida em casa, nem móveis, nem nada e quase tudo era destinado ao filho. Para ele, Alaor, apenas o suficiente para não morrer de fome.
Durante uma crise mais acentuada, a quarta na semana, Alaor intuiu que suas forças estavam definitivamente perdidas. Ele, homem temente a Deus, estava exausto e desesperado. Pensou em colocar um fim definitivo no drama cotidiano. Planejou a própria morte e a do menino, mas sabia de antemão que na hora H não teria coragem para perpetrar a loucura. O jeito era engolir a seco os cacos de vidro que a existência lhe dera e continuar acreditando que um dia, milagrosamente, as coisas iriam mudar.
Na igreja que frequentava toda sexta-feira, Alaor convivia com histórias muito parecidas com a sua. Eram filhos drogados, violência e abandonos de toda espécie, desemprego, falta de moradia, de saneamento básico, de dignidade. Numa noite chuvosa durante o culto, todos estavam em comunhão, cantando com extremo ardor a conhecida canção que dizia: “pelos prados e campinas eu vou… Tu és, Senhor, o meu pastor e por isso, nada em minha vida faltará”.
Alaor enxugou as furtivas lágrimas, saiu da igreja, passou na venda perto de casa e comprou uma barra de chocolate branco. Junto ao filho na sala de estar, saboreou vagarosamente o doce. Ofereceu um pedaço ao menino que parecia estar em paz, com o semblante corado. Talvez estivesse feliz naquele momento e como se parecia com a mãe!
Ambos adormeceram com o gosto do chocolate barato na boca, mas naquela mesma madrugada as convulsões voltaram e os cacos de vidro da existência mostraram uma vez mais suas terríveis garras.
Alaor – ou será Manoel, José, Pedro? – quer voltar à igreja o mais rapidamente possível para cantar e cantar e cantar e, em êxtase místico, esquecer o sofrimento em estado bruto que marca indelevelmente o coração das criaturas humanas.